GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 | GT7
Grupo de Trabalho 3"A morada do homem e o mundo da mulher":
trabalho, gênero e raça numa sociedade colonial, Lourenço Marques, Moçambique, nas primeiras décadas do século XX.
Valdemir Zamparoni[1]
O crescimento acelerado que atingiu Lourenço Marques nas duas últimas décadas do século XIX esteve associada ao processo de expansão da atividade mineira na região do Rand, no vizinho, Transvaal, hoje África do Sul. A cidade, anteriormente um pequeno vilarejo semi-fortificado, cercado de mangues e pântano (mapa 1) viu, com a corrida do ouro, radicalmente modificada sua face com a chegada de centenas de brancos de todas as nacionalidades a caminho das minas ou que se fixaram ali para servirem de intermediários nos negócios com o hinterland. Esta sua característica de porta de entrada para o Transvaal orientou o primeiro plano de urbanização da cidade, de 1887, executado por uma expedição das Obras Públicas, especialmente designada de Portugal e chefiada pelo engenheiro Joaquim José Machado, depois Governador Geral. Diante de tal expansão dos negócios, era imprescindível que a cidade fosse saneada e seguindo os princípios então em voga, planejou-se a expansão urbana rumo às terras altas do planalto, criando, na prática, três espaços distintos: a cidade baixa, a cidade alta e os subúrbios e tal divisão se acentuará a partir da década de dez com o aumento da migração e a maior presença de mulheres brancas cujo percentual em relação à população branca na Colônia descreve uma curva ascendente desde o final do século XIX.[2]
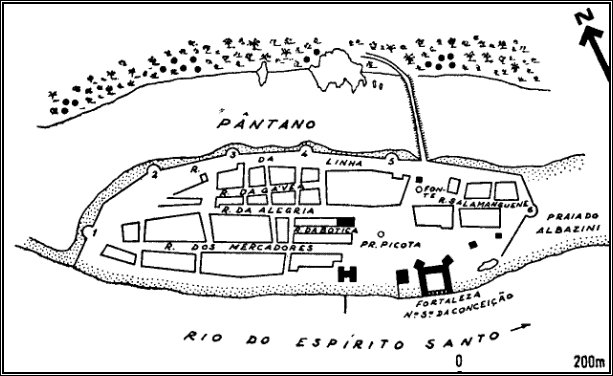
Mapa 1 – Lourenço Marques, 1876.
(fonte: Mendes, p. 83)
A baixa tornava-se o espaço do trabalho e dos negócios; era um espaço público, masculino, que no fins de tarde e às noites transfigurava-se em espaço de lazer e prazer para brancos. Somente o enclave dos monhés, na rua da Gávea e travessas, destoava desta vocação, pois estes resistiam à separação entre trabalho e moradia, uma das características da cidade moderna, e continuavam a residir nos fundos das casas de comércio.[3]
Um forte indicativo desta construção de um espaço do trabalho no qual a figura feminina estava praticamente ausente pode ser buscado nos números oficiais. Em 1912, das 2.965 pessoas brancas exercendo alguma profissão arrolada pelo Censo, 2.860 (96,5%) eram homens e somente 105, ou 3,5% do total, eram mulheres e, destas, poucas eram aquelas ligadas diretamente às atividades comerciais que se desenvolviam na baixa: três telefonistas, uma telegrafista, dez empregadas do comércio, quatro industriais, uma farmacêutica e cinco modistas.[4] Passados dezesseis anos, em 1928, de uma população branca ativa de 4.687 pessoas, os homens somavam 4.220, o que equivalia a 90%, e as mulheres somente os 10% restantes, índice que se manteve mesmo passados outros 12 anos, quando o Censo de 1940 reporta que Lourenço Marques contava com uma população branca ativa de 13.218 pessoas, das quais somente 1.191 eram mulheres.[5] Estes números indicam que, embora as mulheres brancas, praticamente, tenham triplicado a sua presença no mercado de trabalho urbano em cerca de quinze anos, ainda continuaram a representar uma fatia residual, de modo que o espaço do trabalho e o espaço público ainda permaneciam esmagadoramente masculinos. Embora as fotos que temos de Lourenço Marques, no período aqui tratado, tenham sido tiradas por fotógrafos cujo olhar se dirigia mais para elementos arquitetônicos que se destacavam na paisagem urbana, indicando suja pujança e modernidade, do que para a paisagem humana, elas ajudam a compreender melhor esta exclusão feminina. Raras são as fotos nas quais figuram mulheres. Parece até natural a sua ausência. Nas foto 1 da Rua Araújo, uma das mais movimentadas da baixa, - e foto 2, da Praça Sete de Março – não há indícios da existência de mulheres.
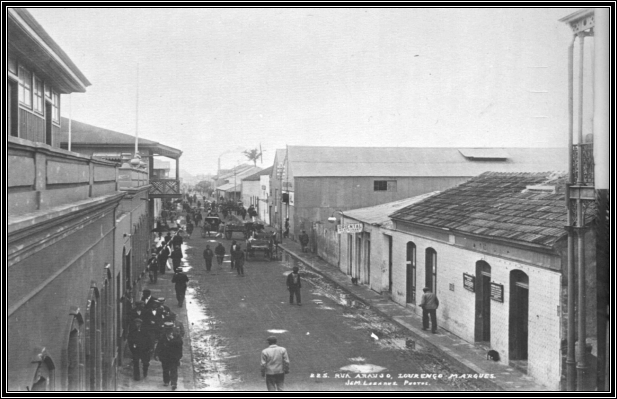
Foto 1 – Rua Araújo
(col. Lazarus, Sociedade de Geografia de Lisboa, apud. Lobato, p. 154)
Na rua Araújo, o que vemos são estabelecimentos comerciais e homens apressados indo e vindo, trajados de modos diferentes indicando posições sociais e raciais distintas, carroças puxadas a boi ao lado de riquixás puxados a homem e ao fundo, mostrando a pujança local, a chaminé solta fumaça. Mulheres? Bem, não estavam totalmente ausentes. Depois de um dia de correria, a “rua aparentemente morria, e tornava-se misteriosa e interdita, para nascer ao crepúsculo o sortilégio que a animava como um serralho à noite inteira, para lá das portas fechadas e as cortinas corridas que filtravam alegres gargalhadas de mulher, como cristais finos atirados ao lixo da rua, no silêncio da noite.” A noite fazia emergir as mulheres num novo território que a luz do dia ocultava: “cançonetistas, dançarinas, prostitutas, criaturas abandonadas e belas que se vendiam elas próprias em leilão, em cima das mesas dos bars, oferecendo-se em finos maillots cor de carne a quem desse mais libras”[6]
Mas estas mulheres eram segregadas e sua presença embora tolerada, não era mostrada. Eram vistas como uma extensão da presença masculina, ou melhor ainda, como um elemento indispensável à construção deste espaço masculino.[7] Na Praça Sete de Março (foto 2) centro da cavaqueira local, vemos homens elegantemente vestidos, de casaco e chapéu, marinheiros e um ou outro serviçal indígena. Abancados ou em pé os homens se reuniam para colocar em dia os assuntos políticos e sociais ou simplesmente para ouvir a banda militar apresentar-se e estes assuntos e atividades pareciam ser exclusivamente masculinas.
Por outro lado, a cidade nova, nas terras altas (mapa 2) onde residia a maioria dos colonos, era o espaço da mulher branca - esposas e filhas - recolhida ao recato do lar, longe do burburinho do centro com suas levas de homens, notadamente, as mangas de trabalhadores indígenas. No período aqui estudado, a casa foi quase que exclusivamente o espaço em que a mulher circulava e no qual os afazeres domésticos consumiam monotonamente os seus dias. As mais pobres, além da faina doméstica, desenvolviam, em casa, atividades tipicamente domésticas - costureiras, lavadeiras e bordadeiras - para reforçarem o minguado orçamento, e aquelas que perderam o sustentáculo representado pelos maridos ou pais, como é o caso das viúvas e órfãs, procuravam realizar fora de casa tarefas assalariadas que, na verdade, eram extensões daquelas desenvolvidas no próprio lar, empregando-se como criadas, ou cozinheiras; mas a grande maioria das mulheres brancas ficava em casa, dando ordens e supervisionando os seus serviçais domésticos africanos.

Foto 2 – Praça Sete de Março
(Foto de Lazarus, coleção de Alexandre Lobato, apud. Lobato, p. 49)
Em 1894, das 109 mulheres brancas adultas, duas eram lavadeiras, oito eram comerciantes/negociantes, uma era padeira, outra criada e seis eram irmãs enfermeiras no Hospital.[8] A esmagadora maioria, ou 91 delas (83,5%) eram domésticas. Em 1912, quando já se obedecia claramente aos parâmetros de segregação espacial e racial, a cidade e os subúrbios contavam com 1.767 mulheres brancas, das quais 42 (2,4%) eram estudantes, 105 (6%) eram assalariadas e 872 (49,3%) domésticas, embora não seja de se estranhar que muitas donas de casa brancas tenham sido arroladas entre as 728 mulheres brancas (41%) apontadas como não tendo profissão ou de profissão indeterminada, aqui incluídas as crianças pequenas.[9]
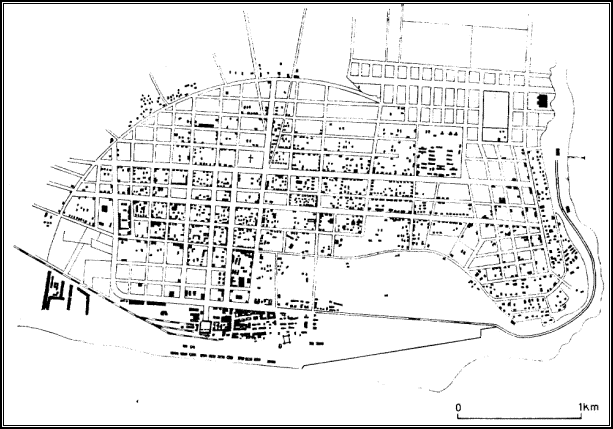
Mapa 2 – Lourenço Marques, 1925
(fonte: Mendes, p. 93)
Em 1928, das 3.515 mulheres brancas existentes na cidade, 467 ou 13,3% delas foram apontadas como tendo alguma profissão ou atividade de caráter remunerado, uma vez que, além do Estado, as demais empresas privadas começaram a lançar mão do trabalho feminino que, embora sendo pior remunerado, abria brechas para a mobilidade social das mulheres. A Fábrica Nacional de Tabacos anunciava em 1921, não só empregos para “meninas” para trabalharem como empacotadeiras de cigarros, como também uma vaga para uma “senhora” dirigir a oficina de empacotamento. As mulheres abriram, ainda que timidamente, a partir de então, um espaço em atividades consideradas como exclusivamente masculinas - gerentes de empresa, balconistas, funcionárias do Estado - e ocuparam totalmente as vagas de novas profissões terciárias como telefonistas, estenógrafas e datilógrafas, embora tenham sido mantidas afastadas, por exemplo, da nascente função de comissárias de bordo. O que chama a atenção é que neste Censo de 1928, o primeiro depois da implantação da ditadura em Portugal, as chamadas domésticas não receberam arrolamento próprio; desse modo, a grande maioria das 1.551 mulheres brancas casadas e das 606 jovens moças solteiras, sem funções assalariadas fora do lar, juntamente com as crianças, foram incluídas entre as 3.048 mulheres apontadas como sem profissão ou profissão ignorada e, os censos de 1935 e de 1940 considerou-as como inactivas.[10] Esta desconsideração do trabalho doméstico, por parte dos elaboradores do Censo de 1928, já seria indício de uma reação aos ares modernizadores, uma expressão da ofensiva familiarista levada a cabo pelos movimentos fascistas que, com o apoio explícito da Igreja Católica, cuja influência em Portugal estava num crescendo, recorriam às Encíclicas Papais para afirmarem que o lugar da mulher era o lar? A Rerum Novarum, de 1891, por exemplo, afirmava que “a natureza destinou antes a mulher aos trabalhos domésticos, que protegem eficazmente a honestidade de seu sexo fraco e encontram a sua justa compensação na educação dos filhos e no bem-estar do lar”[11]; ora, se o lar era o seu lugar natural por que se deveria considerar as atividades domésticas como trabalho, principalmente em África, onde os trabalhos domésticos dos lares brancos eram executados por homens negros assalariados?
Mas quando foi que esta associação entre trabalho doméstico e mulher emergiu como integrante de uma suposta ordem natural? Jean e John Comaroff fazem um pequeno balanço da produção historiográfica e afirmam que a emergência de um domínio doméstico - associado com mulher, trabalho não pago, cuidado com os filhos e “privado”___ foi o corolário do capitalismo industrial; que domesticidade estava integrada ao culto da modernidade e presente no âmago da ideologia burguesa e que, longe de ser uma instituição natural ou universal, ganhou maturidade com a ascensão do sistema de fábrica, que implicava na reconstrução das relações de produção, da individualidade, de classe e gênero. Entretanto, foi somente após 1841, com a pregação que se deu na Europa para a retirada da mulher do mundo da fábrica, é que a doutrina da domesticidade feminina começou a expandir-se para fora dos limites da burguesia e permear as classes trabalhadoras[12]. Este não foi, entretanto, um fenômeno uniforme e desprovido de resistência. Em Lourenço Marques, Florinda Rego, uma mulher branca, esposa de Fortunato Rego e, como ele, ardorosa militante socialista, opunha-se obstinadamente ao que parecia ser o fado destinado à mulher. No artigo “Questões sociais: a Mulher”, publicado na primeira página de uma edição de outubro 1913 de O Africano (doravante, OA), assim expressava-se contra o machismo reinante:
“Desde sempre, o homem, director espiritual
da mulher, exerce sobre esta uma acção opressiva e tirânica, não a educando
nunca na sã moral, mas pervertendo-a e impondo-lhe ditatorialmente missão
contrária à que devia ser a de toda a mulher livre e consciente.
A
imposição referida, porém, longe, mas muito de beneficiar o ditador e
carrasco, ao mesmo tempo perde-o; perde-nos, dizendo melhor! [...]
O
egoísmo ferino do macho-homem entronou-o e fê-lo senhor absoluto da sua fêmea,
da sua víctima, que por seu lado o vitima também.
[...] mas a mulher tem que ser
livre e independente pela educação, pela instrucção e pelo trabalho....” (OA, 04/10/1913)
Embora seu discurso denuncie a opressão, ao atribuir ao homem a responsabilidade pelo descaminho e perversão da mulher, Florinda acaba por assumir a preeminência masculina, ao considerar os homens como guias espirituais, ainda que argumentasse que a mulher não deveria permanecer passiva diante de tais atitudes; ela deveria ir à luta, organizar-se e participar ativamente das lutas sociais que também lhe diziam respeito. Em discurso proferido na Sessão Solene do Centro Socialista de Lourenço Marques por ocasião do dia 1o de Maio de 1913, afirmava:
“não são apenas os homens que devem unir-se. A mulher, o sexo fraco, como se lhe chama, precisa também pugnar pela reivindicação daquilo a que tem jus. É preciso que todas comecem a perceber que não podem continuar a ser eternas escravas! Dizem que as mulheres não devem meter-se em política! Por que? A mulher deve e tem por obrigação frequentar os Centros [socialistas], dedicar-se às questões que se lhe interessam e que interessam à humanidade em geral.” (OA, 07/05/1913)
Tal discurso poderia, sem acrescentar uma vírgula, ter sido pronunciado em qualquer reunião socialista da Europa. Nele não há nenhuma referência ao universo colonial; ele simplesmente eclipsa a variante racial e a situação da mulher negra e mulata. Não haveria, porém, especificidade na tessitura das relações entre homens e mulheres brancos, em virtude da forma opressiva de convivência que se estabelecia entre estes e seus congêneres colonizados? Ora, se tal viés da realidade escapava à compreensão de uma mulher esclarecida e militante socialista, certamente, o mesmo se dava entre os colonos em geral, cujo nível de conhecimento e politização estava muito aquém do de Florinda.
Nos anos vinte, com a expansão dos serviços e
negócios, também expandiu-se, como vimos, a presença feminina no mercado de
trabalho laurentino e, com ela, uma agressiva reação masculina nas páginas
dos jornais. Mesmo O Brado Africano (doravante OBA) que sucedera a O
Africano, em cujas páginas Florinda Rego tivera inúmeros artigos
prontamente publicados, mudou seu posicionamento a respeito do papel reservado
às mulheres, certamente porque os membros da pequena burguesia negra e mulata,
cujos interesses representava, temiam que o ingresso de mulheres brancas,
apadrinhadas por esposos, parentes e amigos influentes, acirraria ainda mais a
concorrência por postos de trabalho e contribuiria para limitar-lhes as chances
ou mesmo para expulsá-los dos poucos empregos que conseguiam manter face à
crescente onda racista. Rapidamente O
Brado Africano acolheu raivosos articulistas que imprecavam contra a presença
das mulheres brancas no mercado de trabalho e, particularmente, nas funções públicas,
como era o caso do colaborador que assinava sob o pseudônimo de Leopardo, para
quem “lugar de mulher é cosendo
meias”[13],
ou de Luiz V. Álvares, um indo-português, que já tendo ensaiado suas idéias
em artigos publicados no ano anterior, publica em 1921, sob o título de “A
Mulher”, artigo no qual continua sua arenga:
“a mulher é arrastada
pelas suas tendências sentimentais para estar em casa, para ser dona da
sociedade doméstica, para exercer a inata aptidão simpática e meiga que tem
para criar os filhos, para trabalhar tranqüilamente no retiro do lar, esforçando-se
para agradar o seu esposo, com as suas obras, com a sua formosura e graça [...]
e não insuportável como a impaciente Xantipa que injuriava o pobre
Sócrates...
nem como a mulher educada à moderna, que com ânsia sempre crescente de
prazeres entrega os seus filhos a crear, a uma ama, e passeia todo o dia
engalanada, ou gasta o tempo na leitura dos deleitosos romances sensuais, ou
freqüenta as repartições ou os lugares públicos e civis como dactilógrafa,
como advogada, como delegada... ansiosa de, com a sua demasiada beleza feminina,
encantar e enlouquecer os rapagões, aliás activos e enérgicos trabalhadores.
Empregar
para o serviço público, civis e militares e comerciais as mulheres ou
raparigas é inverter a ordem natural que as destinou, pela vocação ordinária,
para a nobilíssima missão da maternidade. [...]
Tais
raparigas que sem freio da Regra da Moralidade, nos seus portes, nas suas
vestes, nas suas audácias, nas suas intenções, que se exteriorizam, de tendência
para se socializarem... são amostras contagiosas para a educação dos indígenas
que vão facilmente imitando a imoralidade que se arrasta por toda parte...” (OBA,
19/03/1921)
A sociedade doméstica, advogada pelo autor, compreende dois planos conceituais: primeiro um grupo social, a família, em cujo seio se expressaria a divisão sexual do trabalho, cabendo à esposa criar filhos, laborar e esperar sorridente e meiga a chegada do marido e, segundo, um espaço físico privado, cujas fronteiras eram claramente definidas e no qual circularia a mulher. A crer em suas palavras, a existência social da mulher estaria determinada ainda pelas condicionantes biológicas naturais e qualquer comportamento que não se enquadrasse estritamente nesta regra acabaria por corromper não só a si própria, mas também aos homens. O trabalho, ao desviar a mulher de sua “nobilíssima” “vocação”, a um só tempo masculinizaria a mulher e efeminizaria os homens, acabando por inverter os papéis sexuais que o autor julga naturalmente definidos. Os pobres homens, “activos e enérgicos trabalhadores”, cairiam como vítimas indefesas e ao enlouquecerem com esta exposição pública, só faltou dizer lúbrica, das mulheres, negariam a sua própria essência que é a de serem racionais e equilibrados. O porte, as vestes, o comportamento e os gestos seriam os sinais indiciários e sintomáticos de uma deterioração da mulher e pior que tudo, acabariam, tal como uma lepra moral, por contagiar os indígenas, justamente a quem se deveria, como missão civilizadora do branco, dar os melhores exemplos.
Excetuando-se uma pequena minoria de índole ou
formação mais liberal, ou aquelas empurradas pela necessidade cotidiana de
sobrevivência, as mulheres brancas pareciam concordar com a tese de que “a
morada do homem é o mundo, e o mundo da mulher é o lar doméstico”[14],
de onde raramente saíam e quando o faziam eram acompanhadas dos muleques,
para cuidarem dos filhos e carregarem pacotes e, em geral, pelos vigilantes
maridos; afinal, pregava-se que a mulher não deveria se “apresentar na sociedade só e independente, mas ao lado do varão e
como auxiliar dele”[15].
Aos domingos e dias santos podia-se encontrá-las na igreja, uma vez ou outra na praia da Polana ou em algum tea meeting organizado por uma das associações recreativas e, particularmente, nas atividades da Associação Católica, única entidade formada e dirigida por mulheres[16]. Podia-se ainda ver algumas junto ao Cais a “esperar o barco” da Europa, em busca das novidades da moda ou na Baixa, em visitas às lojas chiques, por exemplo, da Rua D. Luís que, depois, com a República, passou a ser denominada Consiglieri Pedroso, e onde podiam comprar na Casa Bayly as últimas partituras, discos ou perfumes chegados d’além mar.

Foto
3 – Praça Sete de Março, cerca de 1932.
(Autor
desconhecido, col. De Alexandre Lobato, apud. Lobato, p. 59)
Junto com seus maridos iam dar vivas ao novo Governador ou assistir aos films e peças teatrais próprias às famílias, ou ainda, nas noites de quartas e domingos, iam fazer o footing e abancarem-se na Praça Sete de Março – ver foto 3, uma das raras onde as mulheres aparecem - onde, até às onze da noite, a banda militar apresentava “trechos clássicos mais conhecidos, um ‘paso-doble’ e outras peças vulgarmente regimentais”[17]; mas apesar destes pequenos deleites, o comportamento geralmente esperado das mulheres era concordante com as idéias preconizadas por Luiz V. Álvares que, aliás, como sabemos, não estava só em sua cruzada; além das Encíclicas mencionadas, suas palavras ecoavam nas de muitos outros escritores coetâneos como Loffredo, um dos filósofos do fascismo, que em 1938 afirmou que “a mulher que abandona o lar para ir trabalhar, encontrando-se em promiscuidade com o homem enquanto se passeia pelas ruas, toma o eléctrico ou o autocarro, frequenta as oficinas e os escritórios, esta mulher deve ser objecto de reprovação”[18]. Esta insistência em naturalizar o espaço e a atividade da mulher insere-se num processo mais amplo de construção de uma nova ordem moral, na qual os mecanismos da disciplina estariam silenciosamente internalizados no seio da família e do lar que atuariam como reprodutores dos valores desta nova ordem.
Mas, e quanto às mulheres de outros segmentos raciais?[19] Em 1894 somente oito mulheres africanas exerciam alguma atividade de tipo assalariada, das quais cinco eram criadas, uma cozinheira, uma governanta e uma serviçal. Somente uma mulher asiática estava empregada, como criada; todas as demais, de ambos os segmentos raciais, eram domésticas, ou seja, donas de casa. Em 1912 a situação pouco se altera: de um total de 5.979 mulheres pretas, vivendo na cidade e subúrbios, somente três eram costureiras e duas eram proprietárias; das 703 mulheres classificadas como pardas, sete dedicavam-se à costura, seis eram proprietárias e três eram comerciantes nos subúrbios da cidade. As demais foram indicadas como sem profissão, ou como donas de casa, ou ainda como exercendo tarefas domésticas assalariadas, conforme tratamos acima. Em 1928 o quadro era o seguinte:
|
Profissões - mulheres não-brancas - Lourenço Marques, 1928 |
|||
|
Profissões |
Africanas |
Indo-Port. |
Mixtas |
|
Funcionárias
do Estado |
01 |
02 |
01 |
|
Assalariadas
do Estado |
14 |
01 |
- |
|
Contratadas
do Estado |
- |
- |
02 |
|
Agricultoras |
203 |
- |
- |
|
Caixeiras
de balcão |
- |
- |
02 |
|
Comerciantes |
- |
- |
02 |
|
Contínuas |
02 |
- |
- |
|
Costureiras |
04 |
- |
13 |
|
Cozinheiras |
96 |
02 |
05 |
|
Criadas |
426 |
14 |
41 |
|
Datilógrafas |
- |
- |
02 |
|
Gerentes
de Empresa |
- |
02 |
01 |
|
Modistas |
01 |
- |
01 |
|
Parteiras |
- |
01 |
- |
|
Proprietárias |
07 |
- |
02 |
|
Trabalhadoras |
02 |
- |
- |
|
Vendedoras
Ambulantes |
17 |
- |
- |
|
Total
> de 14 anos (A) |
5.661 |
251 |
495 |
|
Total
com profissão (B) |
773 |
22 |
72 |
|
B/A
em % |
13,6% |
8,7% |
14,5% |
O que se nota é que o percentual de mulheres exercendo alguma atividade remunerada é extremamente baixo e a esmagadora maioria das não-brancas, com alguma atividade assalariada, estava realizando tarefas de caráter doméstico, como criadas e cozinheiras; pouquíssimas exerciam funções tipicamente urbanas como datilógrafas, comerciantes ou caixeiras, ou de poder, como gerentes e, neste caso, nenhuma era africana. Embora o Censo não o explicite, o termo proprietárias refere-se a proprietárias de casas de aluguel. Ainda que timidamente, o Estado estava começando a empregar mulheres não-brancas, inclusive africanas e, embora não se indique as funções que exerciam no aparelho do administrativo, é de se supor que fossem as mais baixas, já que a maioria era assalariada e não tinha estatuto de funcionárias públicas, reservado aos cargos médios e altos do escalão administrativo e ocupados, em sua esmagadora maioria, por homens brancos. Nenhuma mulher classificada como amarela e indo-britânica exercia qualquer atividade assalariada. No segmento das mulheres classificadas como africanas, 67,5% eram assalariadas domésticas, 26% eram agricultoras e somente 2,2% eram vendedoras ambulantes. Sobre o significado de seu ingresso ou não no mercado de trabalho doméstico, já comentamos anteriormente. O elevado número de agricultoras refere-se certamente às mulheres que, nos arredores da cidade, faziam hortas para fornecer produtos ao mercado urbano. Mas o que nos surpreende é o pequeno número de vendedoras ambulantes, já que se tem afirmado que esta era uma das principais atividades femininas[20]. O Censo aponta 56 homens africanos nesta atividade e somente 17 mulheres. Certamente trata-se de um viés na coleta das informações que pode não ter incluído, entre outras, as agricultoras arroladas, embora fosse comum que estas vendessem, pelas ruas e nos mercados populares, as hortícolas por elas produzidas.
O que é certo é que em Moçambique o controle sobre o afluxo de mulheres africanas para a cidade sempre mereceu atenção especial das autoridades administrativas, que temiam que seu afastamento das tarefas agrícolas poderia por em risco a manutenção do sistema de usufruto de uma força de trabalho masculina sazonal e barata, quer para as minas quer para os serviços internos à colônia e, ao mesmo tempo, abalar os mecanismos de reprodução biológica e social das comunidades. Como acrescenta Jeanne Penvenne, a mentalidade de então, entre colonos e africanos, não supunha a mulher africana como estando na cidade; a ela cabia, sob os cuidados e proteção de um homem, suprir as necessidades destes e de seus filhos nas áreas rurais, a ela cabia o trabalho agrícola, a machamba e não vender seu trabalho por salário[21]. Além disso a presença de mulheres na cidade podia contribuir para, sob o ponto de vista da administração, uma indesejada fixação dos homens e formação de famílias negras, o que fatalmente desaguaria na necessidade da ampliação dos serviços urbanos, escolas e serviços de saúde, ainda que mínimos, para atendê-los, além é claro, do medo potencial que representaria uma maior população negra.
Pressionadas pela autoridade masculina dos chefes e parentes a permanecerem nas aldeias sob as normas de conduta social ali vigentes e constrangidas pelos regulamentos urbanos coloniais, a presença feminina em Lourenço Marques , até a década de 40, sempre foi pequena, embora, os números apontados pelas estatísticas oficiais devam ser vistos com restrições, tanto por seu eurocentrismo, quanto pelo androcentrismo. Eram em sua maioria originárias da periferia da própria cidade e se dedicavam principalmente às pequenas machambas no entorno urbano. As mulheres migrantes, conforme aponta Penvenne, podiam ser divididas em dois grupos: o primeiro, formado pelas mulheres que acompanhavam seus maridos, com quem viviam e de quem dependiam monetariamente, continuavam a cultivar suas machambas na periferia da mesma maneira que o faziam nas áreas rurais. O segundo grupo era formado pelas mulheres que chegavam sozinhas e que, embora algumas casassem ou vivessem com homens, asseguravam seu próprio dinheiro dedicando-se ao pequeno comércio, aos serviços e buscando trabalho assalariado que lhes permitissem viver no meio urbano[22]. A partir da metade dos anos quarenta, e paulatinamente, um número crescente de mulheres foi para Lourenço Marques em busca de condições de vida que o campo já não lhes oferecia, impelidas por uma série de fatores que associam a expansão da oferta de trabalho assalariado às crises ecológicas - secas alternadas com enchentes, e problemas sociais e econômicos, tanto decorrentes da diminuição do acesso à terra produtiva, ocasionado pela expansão da presença de colonos brancos, quanto pela competição por terras entre a produção agrícola voltada para atender o mercado exportador e a produção alimentar, para sustentar a família. De qualquer modo, os fatores que impeliam as mulheres à busca de um trabalho urbano, ainda que sujo, pesado e mal remunerado, particularmente na indústria de transformação da castanha do caju, não eram as luzes da cidade ou o acesso aos pretensos confortos urbanos. Penvenne, aponta números mas, destaca que o que levava estas mulheres a arriscarem-se num meio hostil e desconhecido, era a associação desses fatores ecológicos e econômicos, agravados por problemas de ordem pessoal: a perda do acesso à terra, como decorrência da perda dos maridos e dos laços matrimoniais; a morte dos pais; a gravidez fora do casamento; o adultério; o incesto ou bebedeira; a rejeição e violência dos maridos, ou ainda discordância de que estes pretendessem ter uma segunda mulher[23]. A maioria destes fatores de índole pessoal referem-se a situações vivenciadas por mulheres casadas, ou melhor, de alguma maneira, tornadas sozinhas. Se isto se verifica, entre as trabalhadoras da indústria do caju, no final dos anos quarenta, o mesmo parece não ter ocorrido na década anterior. O Censo de 1928 aponta que, do total de 7.405 mulheres presentes em Lourenço Marques, 1.744 (23,5%) eram menores de quinze anos e a esmagadora maioria do contingente feminino era composta por 3.571 mulheres solteiras, que representavam 63% de todas as mulheres com idade acima de quinze anos; 1.623 (28,6%) eram casadas, 459 (8,1%) viúvas e somente oito (0,1%) eram divorciadas. Estes números devem ser vistos com certa restrição, pois como o imposto de palhota era cobrado, considerando-se cada mulher casada como uma unidade tributável, não é de todo improvável que, temendo que se tratasse de um arrolamento de palhotas, muitos informantes tenham informado, aos recenseadores, como sendo filhas solteiras, as suas esposas mais jovens. De qualquer modo, as diferenças entre os números são suficientemente latas para que possam ser atribuídas exclusivamente a esta estratégia. Mesmo com estas ressalvas, os números apontam que eram as mulheres jovens que estavam na cidade e não aquelas que, por um motivo ou outro, tinham vivenciado o esgarçamento de seus laços matrimoniais, como as divorciadas e viúvas.
O certo é que, apesar deste quadro, muitas mulheres indígenas tinham como uma de suas atividades a venda de lenha e carvão, que ofereciam de porta em porta nas áreas brancas, embora sucessivos regulamentos procurassem cercear sua circulação; outros concederam monopólios de corte de madeira exclusivamente a brancos e, com freqüência, a polícia realizava rusgas nos subúrbios para impedir a existência deste comércio informal, basicamente realizado por mulheres - que desde há muito se realizava na área do Xipamanine - numa tentativa de obrigar a população negra a comprar das mãos de comerciantes brancos. Esta tática esteve fadada ao fracasso porque, não só os negros e mulatos, mas até o segmento mais pobre da população branca, não raro, encontravam nos seus fornecedores negros preços abaixo dos praticados no Mercado Municipal Vasco da Gama e enviavam os seus moleques aos subúrbios, em busca das mercadorias desejadas, alimentando este mercado marginal. Este seu caráter informal e a prática de subornar sipaios e fiscais propiciavam as condições para que a atividade pudesse continuar se realizando, apesar das proibições legais. Após as rusgas, era prática corrente a mudança dos pontos de venda, cuja nova localização, os clientes rapidamente tomavam conhecimento através da eficiente rede de informação oral.
[1] Doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na área de concentração em Estudos Africanos com a tese “Entre “narros” & “mulungos”: colonialismo e paisagem social em Lourenço Marques (Moçambique), c.1890 – c.1940”; professor de História da África para a graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia, Salvador; membro do Conselho editorial da Revista Afro-Ásia, Salvador, CEAO/UFBA.
[2] ZAMPARONI, V. D. “Lourenço Marques: espaço urbano, espaço branco?”. In Actas do Colóquio Construção e Ensino da História de África , Lisboa, CNCDP, 1995, pp. 389-409. Lourenço Marques tinha em 1894 uma população total de 591 indivíduos brancos, dentre os quais 131 (22,1%) pessoas brancas de sexo feminino; em 1912, de um total de 5562, as mulheres brancas eram 1768 (31,7%). Em 1928 temos 9001 brancos, dos quais 3515 (39%) são mulheres, em 1935 temos 12162 pessoas brancas e as mulheres são 5225 (42,9%), e finalmente, em 1940, temos que de um total de 14400 brancos, 6338 (44%) são mulheres. Ver REIS, Carlos Santos. Op. cit., AZEVEDO, Guilherme de. Relatório sobre os trabalhos do recenseamento da população de Lourenço Marques e Subúrbios, referido ao dia 1 de Dezembro de 1912. In: Boletim Oficial de Moçambique. no 12/1913, suplemento. pp. 177-193, SOUZA RIBEIRO. Anuário de Moçambique, 1940. Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1941, p. XVI e ainda Censo da População em 1940 - I - População não indígena. Colónia de Moçambique - Repartição Técnica de Estatística, Lourenço Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1942.
[3] ZAMPARONI, V. D. “Chinas, Monhés, Baneanes e Afro-maometanos: colonialismo e racismo em Lourenço Marques, Moçambique, 1890/1940”. In Third International Meeting of Lusotopie Portuguese-speaking space in Asia, Asians in portuguese-speaking space, Goa, 1999, Paris, Karthala, (no prelo).
[4] AZEVEDO, Guilherme de. Op. cit.
[5] Censo da população não indígena em 1928. In: Boletim Económico e Estatístico. série especial no 10, Colónia de Moçambique, Repartição de Estatística, Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1930 e Censo da População em 1940 - I - População não indígena. Op. cit..
[6] LOBATO, Alexandre. Lourenço Marques, Xilunguíne. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1970, pp. 139-140.
[7] ZAMPARONI, V. D. “Copos e Corpos: a disciplina do prazer (Lourenço Marques 1900/30)”. In. Territórios da Língua Portuguesa: culturas, sociedades, políticas, Rio de Janeiro, Fundação Universitária José Bonifácio/UFRJ-IFCHS, 1998, pp. 628-633.
[8] REIS, Carlos Santos. Op. cit..
[9] Não se atinge 100% pois estes números padecem de defeitos: embora estejam arroladas 1.767 mulheres brancas, vinte delas deixam de estar distribuídas nos mapas de atividade. AZEVEDO, Guilherme de. Op. cit.
[10] Estas informações constam da análise sumária dos resultados que acompanha o Censo da População em 1940 - População não-indígena. Colónia de Moçambique, Repartição Técnica de Estatística, Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1942, p. xxiii.
[11] Na Casti Connubü, de 1930, Pio XI afirmava em relação ao trabalho feminino: “Isto conduzirá certamente a uma corrupção do espírito da mulher, da sua dignidade maternal e a uma catastrófica inversão das relações familiares; porque se a mulher descer do trono verdadeiramente real onde o Evangelho a colocou, junto do lar, estará em breve reduzida à antiga escravidão e tornar-se-á, como no mundo pagão, um puro instrumento entre as mãos do marido.”. No ano seguinte, 1931, novamente Pio XI volta à carga com a Quadrigesimo Anno: “É no lar, aí onde os trabalhos de dona de casa a prendem às diferentes ocupações domésticas, é nesse ambiente que é necessário repor a ocupação de família”. Apud MACCIOCCHI, Maria Antonietta. “As mulheres e a travessia do fascismo”. In: Elementos para uma análise do Fascismo. Lisboa, Bertrand, 1977, pp. 107-108.
[12] COMAROFF, Jean & John L. “Home-Made Hegemony: Modernity, Domesticity and Colonialism in South Africa”. In: Hansen, Karen Tranberg (ed.). African Encounters with Domesticity. Op. cit., p. 48.
[13] O Brado Africano, 03/01/1920.
[14] Idem, 19/03/1921.
[15] Novamente palavras de Luiz V. Álvares em O Brado Africano, 27/09/1930.
[16] Anuário de Lourenço Marques - 1932. p. 220.
[17] LOBATO, Alexandre. Lourenço Marques, Xilunguíne. p.38.
[18] LOFFREDO, Ferdinando. Politica della Famiglia. Milano, Valentino Bompiani, 1938, apud MACCIOCCHI, Maria Antonietta. Op. cit., p. 147.
[19] Para uma análise que leve em conta os segmentos raciais, ver também ZAMPARONI, V. D. “As raças dos empregos: trabalho, raça & classe no contexto colonial de Lourenço Marques, Moçambique, c. 1890-1940”. In. II Congreso de Estudios Africanos en el Mundo Iberico, Madrid, 1999.
[20] Penvenne, Jeanne Marie. African Workers... Op. cit.
[21] PENVENNE, Jeanne M. “Seeking the Factory for Women” Op. cit., p.27.
[22] Idem, Ibidem, pp. 13-4.
[23] Idem, Ibidem, p. 21.