GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 | GT7
Grupo de Trabalho 3Relações de domínio no local de trabalho: a problemática da raça numa empresa mista em Moçambique
Ana Célia Calapez Gomes[1]
Da
diferença
A leitura de alguns textos de psicologia informa-nos
que a percepção da diferença e a categorização são fenómenos próprios
ao normal funcionamento do cérebro humano enquanto processador de informação.
Na base destes mecanismos está a necessidade de simplificar para tornar
apreensível, uma realidade demasiado complexa. Parece também consistentemente
demonstrado que os indivíduos automaticamente descriminam a favor do que
consideram o seu grupo[2]
e diferenciam mais facilmente e de forma mais permanente, quando há correspondência
entre uma determinada característica física e uma dependência categorial
(Doise, 1984: 118). Esta diferenciação possui, à partida, significado
e valor, pois dela depende a formação da própria identidade, mas para
que se constitua em hierarquia, é necessário que ela se processe no âmbito
de um sistema de relações sociais determinado pela desigualdade[3].
Portanto, não é a diferença em si nem a sua percepção[4]
que determinam a desigualdade, é a sua hierarquização simbólica e política
que introduz a relação de domínio.
As sociedades estratificadas[5]
construíram um relacionamento paradoxal entre diferença e domínio. Por
um lado, é-lhes necessário atribuir um valor hierárquico à diferença para
a poder dominar e, em última análise erradicar, por outro, não podem deixar
de criar diferenças sob pena de perder a posição de domínio que adquiriram
precisamente por dominar as diferenças que desejam eliminar. Sendo assim,
a diferença é simultaneamente o mais temido e o mais desejado, o agente
corrosivo do domínio e o objecto sobre que se exerce o domínio. Ora, aquele
que domina, domina alguma coisa ou alguém, portanto a percepção da diferença,
para além de hierarquizada tem que ser objectivada, “naturalizada” e “afastada”
do agente dominador para não o ameaçar, nem na sua integridade física,
nem na sua identidade. A diferença tem que ser transformada em oposto.
O conhecimento dualista, que tudo apreende a partir
de oposições binárias, constrói, reflecte e reproduz um mundo em que um
dos termos domina necessariamente o outro e nesta relação procura simultaneamente
eliminá-lo e reconstitui-lo para poder continuar a dominá-lo.
Género,
raça e classe: “naturalizações” da diferença
Género, raça e classe são construções sócio-históricas
e culturais. Se partirmos de uma concepção dualista em que a existência
só é atribuível ao material, ao físico, então nenhum dos fenómenos traduzidos
por estes conceitos existe e apenas o género, quando directamente relacionado
com o bimorfismo sexual humano, é susceptível de alguns laivos de proto-existência.
Durante a segunda guerra mundial, a sociedade
ocidental acordou chocada para o pesadelo racial nazi e multiplicaram-se
as discussões em torno do conceito de “raça”, no intuito de demonstrar
a respectiva inexistência. A sua substituição pelo conceito de “etnia”
(Montagu, 1997), muito mais ligado a aspectos culturais, não implicou
a erradicação da problemática da desigualdade baseada na raça e por vezes,
quando mal compreendido, veio contribuir para essencializar a cultura[6].
Na verdade, biologicamente não existem raças, mas elas existem socialmente
e as consequências dessa existência social são material e idealmente sensíveis
e traduzíveis numa outra existência puramente
social, a das classes. Apesar do mito do “sangue azul”, nunca foi
possível assegurar uma existência física para as classes sociais. A classe
social é, destas três construções de desigualdade, a que mais claramente
impõe a sua existência independente de qualquer característica física.
Será que as classes sociais, por isso, não existem?
Género, raça e classe são naturalizações da diferença,
produto das relações de domínio que emergem da estratificação social.
Mas esta origem comum não implica a sua redução a um fenómeno único, nem
implica a sua hierarquização. O marxismo, por exemplo, sempre subordinou
as questões de raça e género à problemática das classes, cuja luta elevou
a motor da história. Os problemas levantados pela discriminação racial
e sexual foram sempre tratados como diversões da causa principal, a oposição
entre o capital e o trabalho, e mesmo como mistificações ideológicas destinadas
a minar a unidade da classe operária (McCarthy, Apple, 1988: 18). Na verdade,
o relacionamento entre classes sociais evolui no contexto de relações
raciais e de género, e embora todas tenham em comum tanto o cunho do domínio
como o carácter da emancipação[7],
não são redutíveis umas às outras, nem adicionáveis. A sua interligação
é de carácter dialéctico e as suas configurações fluidas e heterogéneas,
mas profundamente interactivas, de tal forma que mais do que estruturas,
o jogo entre classe, raça e género emerge como múltiplas experiências
relacionais (McCarthy, Apple, 1988: 21) sob a égide do poder como domínio.
Uma
questão de poder
Pode o poder basear-se no dinheiro ou em qualquer
dos artefactos materiais ou não que simbolizam a riqueza, mas extravasa
claramente o significado quantitativo das contas bancárias ou dos tesouros.
O poder de fazer, e o poder de dominar, é também o poder de definir, determinar
a diferença, analizá-la remetendo-se a si próprio para a condição de inanalizável,
imperscrutável, porque Igual (Young, 1996:48-50).
A ciência[8],
como universo epistemológico do capitalismo, é um conhecimento masculino,
branco e burguês, que herdou do saber clássico e do cristianismo o dualismo
e a danação do corpo[9]
e acrescentou-lhe a “prova empírica”, a “demonstração objectiva”, que
permite definir clara e objectivamente a “racionalidade” e relegar para
o seu oposto todos os que interessa que permaneçam fora da “liberdade,
igualdade e fraternidade”. Tal como na Atenas clássica o “poder do
povo” (demos cracia)
se resumia ao domínio dos cidadãos sobre todos os outros, escravos, colonizados
e mulheres, também o capitalismo exclui os pobres, os não-brancos e as
mulheres da sua definição de “racionalidade” e portanto do direito de
ser Igual. Tal como no tempo de Aristóteles, todos estes continuam demasiado
presos à “necessidade” para que possam comungar da “transcendentalidade”
dos dominadores, dos que afectam sem ser afectados (French, 1994: 27).
Mas a “transcendência”, essa capacidade de estar para além da natureza,
de a dominar, travando a alteridade e a morte, é o mais ilusório dos sonhos
de poder.
A sociedade estratificada ao excluir os “não-existentes”
ou os “irracionais” apenas cria um simulacro de transcendência, e ao procurar
substituir a natureza por um universo fabricado, esse sim dominável, apenas
pode destruir-se a si própria (Idem: 31).
Mas
é entre as fissuras e os interstícios do poder dominante que se articula
o discurso da mudança (McCarthy, Apple, 1988: 11)
Um
universo colonial revisitado: a XY em Moçambique
Se a relação de domínio, muito mais do que uma
estrutura é uma experiência e se ela está de facto imbuída na vida das
pessoas, então visitemos um universo, no Moçambique pós-colonial, onde
“a raça ainda é determinante da oportunidade” (Sleeter, Grant, 1988: 145).
A
XY é um exemplo de empresa imperial (Coquery-Vidrovitch, 1981:291-294).
Foi recriada na segunda metade da década de 80, altura em que adquiriu
o seu actual estatuto de empresa mista, com 50% do capital pertencente
ao Estado moçambicano, e 50% constituído por capitais privados, moçambicanos
de jure mas portugueses de facto.
A XY é herdeira de uma antiga empresa privada,
detida por colonos portugueses, nacionalizada após a independência e posteriormente
parcialmente reprivatizada nos moldes referidos.
A presença do Estado moçambicano na XY foi sempre
bastante dúbia, por um lado porque ela contrariava orientações ideológicas
ainda prevalecentes na altura do acordo[10],
por outro porque o tipo de administração negociado entre as partes, por
imposição do parceiro português[11],
não admitia a gestão conjunta da empresa. O Estado limita a sua presença
a dois representantes no conselho de gerência, perante os quais a administração
é responsável, mas que não detêm qualquer poder executivo e nem sequer
exercem funções consultivas.
A administração da XY está sediada em Maputo e
é exclusivamente constituída por portugueses[12],
tal como as direcções das restantes quatro sucursais espalhadas pelo país.
Os portugueses asseguram ainda algumas (poucas) chefias intermédias e
o sector de formação profissional. Os assuntos respeitantes aos recursos
humanos, inclusive os processos disciplinares e a defesa da empresa junto
do Tribunal do Trabalho, está a cargo de moçambicanos negros.
Deste modo, se exceptuarmos os escassos casos
de chefias intermédias ocupadas por portugueses, nunca encontramos um
moçambicano cujo estatuto dentro da empresa seja superior ou sequer idêntico
ao de um português, pois estes últimos ou são directores, ou ocupam lugares
de formadores, paralelos à hierarquia, mas de significação simultaneamente
distanciada e prestigiante. Como veremos adiante, a legitimidade dos directores
não se apoia no nível de formação académica, nem nos anos de casa, mas
depende aparentemente de ser ou não de nacionalidade portuguesa e consequentemente
(pelo menos neste caso) de raça branca.
O organigrama da empresa é perfeitamente piramidal,
e racialmente dividido, correspondendo a base aos funcionários negros
e o topo aos brancos. Entre estes existe um evidente distanciamento entre
o director-geral e os restantes directores, e não está previsto qualquer
mecanismo de comunicação horizontal. A coordenação nacional é composta
pelos directores da unidade do Maputo, o que corresponde a uma centralização
do poder na capital, e o apoio técnico e formação profissional surge,
como já foi referido, numa posição “exterior” e paralela à hierarquia.
O director-geral detém o poder executivo, reúne
com cada um dos seus directores a quem transmite ordens. Estes, por sua
vez, dão as instruções que julgam necessárias aos seus subordinados e
assim sucessivamente. Não há movimento inverso de comunicação, salvo durante
o período de negociação formal para revisão dos salários uma vez por ano,
entre a direcção, os representantes dos trabalhadores da XY e um dirigente
do sindicato respectivo. Aparentemente, cada trabalhador cumpre com as
funções que lhe foram superiormente determinadas, sem que a organização
do trabalho dê lugar à formação de equipas cooperantes[13].
A XY é uma empresa que comercializa e assegura
a manutenção de equipamentos importados. Este estudo centra-se exclusivamente
na sede em Maputo, um edifício moderno, localizado na zona industrial
da cidade, vizinho de bairros residenciais de caniço, bastante precários[14],
onde os índices de desemprego e criminalidade são elevados. A XY-Maputo
emprega cerca de 250 trabalhadores (dos quais apenas 28 são mulheres[15]
e uma dezena são estrangeiros) distribuídos por três áreas fundamentais,
as vendas, a zona administrativa e a oficina, onde também funciona a formação
profissional. A empresa conta ainda com um refeitório onde são servidos
pequenos-almoços gratuitos e almoços comparticipados, além disso, fornece
aos seus trabalhadores transporte em mini-bus de casa para o emprego e
vice-versa, tanto de manhã e ao cair da noite, como à hora do almoço.
O mini-bus segue trajectos predeterminados e os trabalhadores têm que
ir apanhar o transporte em locais de paragem combinados. Como as distâncias
que percorrem até às paragens são consideráveis e muitos trabalhadores
não possuem relógio, não é raro perderem o transporte e ficarem impossibilitados
de comunicar o atraso à empresa porque não existem telefones nos subúrbios
do Maputo. As consequências deste absentismo forçado são nefastas, tanto
para o trabalhador como para o funcionamento da própria empresa. A estes
atrasos juntam-se as numerosas faltas e pedidos de dispensa devido a obrigações
de assistência familiar, realização de trabalhos paralelos para assegurar
a subsistência, visitas às terras de origem para participar em cerimónias
rituais, resolução de complexos problemas burocráticos, como por exemplo,
conseguir uma casa junto do organismo estatal responsável, a APIE.
Os roubos praticados pelos próprios empregados
são, para além do absentismo, o problema mais grave que se coloca à XY
no domínio da gestão dos seus recursos humanos. Devido à frequência com
que ocorrem, os trabalhadores são quase sempre revistados à saída da empresa,
o que contribui para agravar o clima de desconfiança e o número de processos
disciplinares constantemente em curso.
Para compreender as razões que estão na base de
tantos roubos como de uma parte significativa do absentismo, temos que
ter em consideração que o salário auferido por qualquer dos empregados
da XY representa apenas uma parcela, por vezes ínfima, do rendimento necessário
à sobrevivência da família. O salário mínimo praticado por esta empresa
durante o ano de 1995[16]
foi de 290 mil meticais (o salário mínimo oficial era então de 165.500
meticais), e no ano anterior, ou seja 1994, um chefe de secção ganhava
na XY 585 mil meticais. Se tivermos em consideração que em meados de 1995
uma família nuclear, com dois ou três filhos, necessitava de um mínimo
de 1,5 a 2 milhões de meticais para poder viver modestamente, mas exclusivamente
dependente de trabalho por conta de outrém[17],
podemos facilmente concluir que
o salário não é mais do que uma ajuda, cuja característica fundamental
é a regularidade. Deste modo, o roubo e a prática de trabalhos paralelos,
por vezes durante as horas de serviço e utilizando materiais da empresa,
inscreve-se numa lógica de diversificação das fontes de rendimento absolutamente
indispensável à sobrevivência.
Na sede da XY, o espaço de trabalho está organizado
de forma a permitir uma supervisão estrita e a pirâmide hierárquica manifesta-se
em praticamente todos os pormenores.
O edifício da XY tem dois andares. No piso inferior
situa-se a zona de vendas, onde estão expostos os equipamentos e a área
de oficinas e formação profissional. As salas de aulas e os gabinetes
dos responsáveis situam-se num plano inferior em relação às oficinas.
No piso superior funciona a área administrativa.
É aqui que se encontra a direcção. Todos os directores têm um gabinete
próprio, mas apenas o director-geral dispõe dos serviços de uma secretária.
Ele é também o único cujo gabinete tem paredes opacas. Todos os outros
são delimitados por grandes vidraças transparentes, o que facilita um
controle severo de todos os gestos dos funcionários, e ao mesmo tempo,
retira aos directores qualquer tipo de privacidade, sem no entanto criar
a familiaridade simbolizada, por exemplo, pela porta aberta do gabinete.
A supervisão estrita é facilitada pela disposição das secretárias em muitas
das secções, enfileiradas umas atrás das outras e voltadas para a secretária
do chefe, tal como numa sala de aulas. Praticamente todos os funcionários
estão diligentemente debruçados sobre os respectivos trabalhos e raramente
levantam a cabeça. O silêncio é uma constante. Ao contrário do que é comum
nas empresas em Portugal, a comunicação entre funcionários é escassa e
entre estes e o respectivo chefe mais directo limita-se praticamente a
uma troca de ordem e assentimento.
Na XY, tal como em qualquer empresa em Moçambique,
existe a instituição do servente. Este funcionário usa um fardamento próprio,
calças e camisa larga (balalaica) de cor caqui ou parda, não tem qualquer
formação e limita-se a transportar documentos de um lado para o outro,
dentro ou fora da empresa, a fazer fotocópias e a atender a qualquer solicitação
que lhe seja feita. O director-geral tem um servente sempre à disposição.
Este senta-se na antecâmara do seu gabinete, junto da secretária, mas
não existe comunicação entre esta e o servente, a não ser para lhe dar
uma ordem, proveniente ou não do director-geral. Estes serventes são homens
maduros, com família, e não jovens em princípio de carreira como acontece
com a maioria dos estafetas nas empresas em Portugal. Trata-se portanto
de uma carreira, de uma profissão, e não de um momento de passagem numa
caminhada evolutiva dentro do quadro da empresa, o que não quer dizer
que esta esteja excluída à partida.
O nível de formação da maioria dos empregados
é bastante baixo, mas também mais não se lhes pede do que cumpram ordens
com zelo. Mas existem algumas excepções, quadros médios e até jovens em
início de licenciatura ou com a firma vontade de o fazer no curto prazo.
No entanto, nem sempre lhes são atribuídas responsabilidades à sua altura
e nem lhes é dado grande estímulo. Eles são um desafio à ordem prevalecente,
são os únicos capazes de testemunhar a ilegitimidade de directores cujo
grau de formação académica não é superior ao seu, e de formadores com
habilitações muito inferiores às suas. São eles os únicos que podem aspirar
a posições que sabem à partida estarem vedadas por uma barreira racial
implícita e que, por consequência, se revoltam contra um estatuto de inferioridade
artificial perpetrado no interior de um país que é o seu e numa empresa
cuja metade pertence a um Estado, que em princípio os representa.
Resumindo, encontramos na XY uma situação de tipo
colonial porque: (1) a legitimidade da direcção baseia-se numa barreira
racial implícita e não num critério de competência; (2) o esquema de salários
muito baixos e consequente dispersão das fontes de rendimento é igualmente
aplicado aos trabalhadores não-qualificados e aos qualificados; (3) os
trabalhadores estrangeiros (brancos) ganham mais porque exercem funções
superiores, porque estão deslocados (embora nem sempre seja o caso) e
porque de dois em dois anos têm direito a viagens a Portugal para si e
respectivas famílias, enquanto os moçambicanos de igual ou superior qualificação
técnica, não têm direito a férias pagas. Esta situação implica custos
adicionais para a empresa, tanto directos (pagamento de regalias extra),
como indirectos (desmotivação do raro pessoal qualificado); (4) para além
do desnível hierárquico, também os códigos de conduta implícitos desmotivam
a comunicação entre estrangeiros e nacionais, procurando os primeiros
constituir grupos fechados, altamente solidários, cuja função é tecer
uma barreira, tão estanque quanto possível, à penetração do ambiente externo,
considerado hostil; (5) tal como no tempo dos sipaios, as sanções disciplinares
estão a cargo de nacionais.
A
amostra
O presente estudo[18]
assenta sobre uma amostra de 43 trabalhadores da empresa XY-Maputo. A
nossa amostra é constituída por trabalhadores maioritariamente oriundos
do Sul de Moçambique, das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane (33 trabalhadores),
embora também tenham respondido ao questionário várias pessoas naturais
do centro (Beira, Chimoio – 3 trabalhadores) e do Norte (Nampula, Cabo
Delgado – 2 trabalhadores).
Quanto aos portugueses entrevistados, dois são
provenientes do centro do país (de regiões rurais), um do Algarve, um
do Porto e um outro é natural de Angola. Nenhum deles tem a família em
Moçambique, mesmo os que aí residem há mais anos, salvo a única mulher
portuguesa entrevistada, cuja presença no país se deve a obrigações profissionais
do marido. Dos 43 entrevistados, 35 são negros, 5 são brancos e 3 são
mestiços.
Apesar da óbvia selecção racial na atribuição
de chefias, apenas 6 inquiridos referem a existência de racismo na empresa.
Por sinal, destes, 4 têm o ensino médio, um deles conta com uma estadia
de vários anos na Europa e um outro tem um familiar muito próximo que
esteve na luta armada pela independência do país.
Dois dos portugueses inquiridos também se referem
(ainda que com um receio aparentemente inusitado) a uma tensão racial
latente, à existência de preconceitos (ex: histórias que se contam sobre
“os pretos” e a respectiva incapacidade de aprendizagem), e também a um
papel social que os próprios moçambicanos os forçariam a representar,
e que contribuiria para alargar o fosso das incompreensões.
Em termos de escolarização, 6 dos inquiridos têm
nível primário, dos quais 2 são portugueses (um director e um formador);
23 secundário (embora frequentemente com frequência incompleta) e 13 médio,
dos quais dois são portugueses, ambos directores. Apenas uma inquirida,
uma directora portuguesa, tem nível de escolaridade superior equivalente
ao bacharelato.
Mas na XY a formação não é o factor decisivo de
promoção hierárquica, como é visível nos gráficos das fig. 1 e 2.. Dos
13 inquiridos com nível médio apenas 6 desempenham funções de chefia,
e entre estes dois directores portugueses. Os restantes 7 são trabalhadores
sem responsabilidades particulares. Outros factores, como a idade e a
antiguidade na empresa são mais valorizados.
|
Antiguidade/Escolaridade |
Primário |
Secundário |
Médio |
Superior |
|
<1
ano de serviço |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
2
a 5 anos |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
6
a 9 anos |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
>9
anos |
0 |
3 |
1 |
0 |
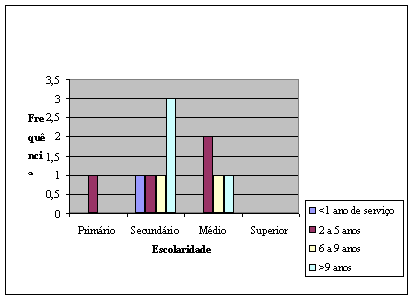
Fig.
1 Distribuição de chefias segundo o nível de escolaridade e anos de serviço
(Moçambicanos)
|
Antiguidade/Escolaridade |
Primário |
Secundário |
Médio |
Superior |
|
<1
ano de serviço |
1 |
0 |
2 |
1 |
|
2
a 5 anos |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
6
a 9 anos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
>9
anos |
0 |
0 |
0 |
0 |
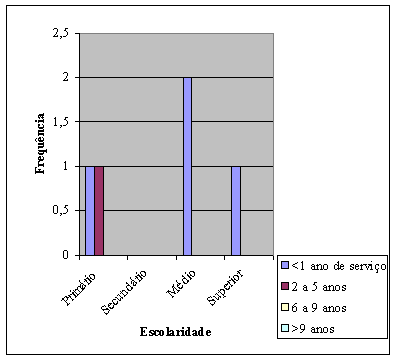
Fig.2
Distribuição de chefias segundo o nível de escolaridade e anos de serviço
(Portugueses)
O chefe típico da nossa amostra é o indivíduo
do sexo masculino, com idade compreendida entre os 31 e os 40 anos, o
ensino secundário e mais de 9 anos de dedicação à empresa. Esta conclusão
não teria nada de especial e enquadrar-se-ia perfeitamente no modelo de
empresa tradicional ainda dominante, se não fossem as promoções rápidas
(leia-se automáticas) de indivíduos cujo único traço comum distintivo
é serem portugueses de raça branca.
Esta conclusão permite incluir a XY entre os casos
de experiência prática em que a raça pré-determina as oportunidades a
nível de emprego e de ascensão social, imbricando-se com a classe e espelhando
uma mesma relação de domínio, tecida nas malhas da globalização económica
do nosso capitalismo actual, como já esteve inscrita na corroída trama
colonial.
Bibliografia
ABRAHAMSSON, H., NILSSON, A.
(1994), Moçambique em transição, Padrigu-CEEI/ISRI, Maputo
CHOW, Esther Ngan-Ling
(1996): “Introduction: transforming knowledgement: race, class and gender”,
in: Chow, Esther Ngan-Ling, Wilkinson, Doris, Zinn, Maxine Baca (Ed.);
Race, Class and Gender: common bonds, different voices, Sage, Thousend
Oaks, London, New Dehli: xix-xxvi,1-3
COQUERY
VIDROVITCH, C. (1981), Entreprises
et entrepreneurs en Afrique XIX et XX siècles, tome 1, L’Harmattan,
Paris
FANON,
F. (1986), Das kolonisierte Ding
wird Mensch, Philipp Reclam Verlag, Leipzig
FRENCH,
Marilyn (1994), “Power/Sex”, in: Radke, Lorraine, Stam, Henderikus J.;
Power/Gender: social relations in
theory and practice, Sage, London, Thousend Oaks, New Delhi: 15-31
GOMES, A.C. (1996), Memória
da submissão: estudo das relações interculturais numa empresa mista em
Moçambique, Tese de Mestrado, ISCTE, Lisboa
McCARTHY,
Cameron, APPLE, Michael W. (1988), “Race, class and gender in american
educational research: toward a nonsynchronous parallelist position”, in:
Weis, Lois (Ed.), Class, race and
gender in american education, State University of New York Press,
New York: 9-39
MEMMI, A.(1974), Retrato
do colonizado, retrato do colonizador, Mondar, Lisboa
MONTAGU, A. (1997), Man’s
most dangerous myth: the fallacy of race, Altamira Press, Walnut Creek,
London, New Delhi (6th.Ed –abridged- 1st.Ed. 1942)
MOORE, H. (1988) Feminism
and antrophologie, Polity Press, Cambridge.
RADKE,
Lorraine, STAM, Henderikus J.(1994), “Introduction”, in: Radke, Lorraine,
Stam, Henderikus J.; Power/Gender:
social relations in theory and practice, Sage, London, Thousend Oaks,
New Delhi:1-14
SLEETER,
Christine E., GRANT, Carl A. (1988), “A rationale for integrating race,
gender and social class”, in: Weis, Lois (Ed.), Class,
race and gender in american education, State University of New York
Press, New York: 144-160
STOLCKE,
Verena (1993); “Is sex to gender as race is to ethnicity?”, in: Del Valle,
Teresa (Ed.), Gendered anthropology,
Routledge, London, New York: 17-37
YOUNG,
Lola (1996); Fear of the dark: “race”,
gender and sexuality in the cinema, Routledge, London, New York
[1] Mestre em Estudo Africanos e doutorada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa.
[2] Exemplo: as clássicas tabelas de Tajfel em que se demonstra que os indivíduos não se limitam a favorecer o seu grupo, mas chegam a preferir prejudicá-lo em termos absolutos, se isso lhes permitir ficar à frente do outro grupo, mesmo que este não seja apresentado como rival. (Doise, 1984:98-99 e 142-144)
[3] Referimo-nos a desigualdade em termos de valor social, e não a heterogeneidade.
[4] A percepção da diferença, por si só, não tem significado hierárquico, pois se A é diferente de B, B é diferente de A e o Próprio é sempre o Outro do outro Próprio. É uma relação recíproca e não de dominação.
[5] As classes sociais estão associadas ao capitalismo e as relações de domínio são muito mais vastas e abrangem diferentes tipos de sociedade (desde o esclavagismo se seguirmos o esquema marxista) onde a desigualdade social é estruturante. Preferimos usar o adjectivo “estratificada” para não restringir as relações de domínio à orgânica social do capitalismo.
[6] Os críticos desta substituição afirmam mesmo que o conceito de etnia não é mais do que uma “duplicação” que acabou por atribuír, sem querer, existência biológica à raça (Stolcke, 1993:25-27).
[7] Sindicalismo, negritude /movimento pelos direitos cívicos/affirmative action, feminismo: todos começaram por reivindicar o direito a ser iguais ao Igual (o oposto do Diferente), passaram pela glorificação da sua Diferença e hoje assumem (nem sempre) o seu direito à heterogeneidade. Fanon e Memmi, no caso específico da raça e da relação colonizador/colonizado, traçam um retrato vibrante desta realidade.
[8] A ciência é parte integrante do “saber universal”, mas na sua definição formal é um produto histórico, e por isso sócio-económico e cultural.
[9] Estranha contradição a de um conhecimento que apenas atribui existência ao que é material e simultâneamente o condena ao domínio do não-existente.
[10] Embora a refundação da XY coincida com o lançamento do Programa de Reabilitação Económica, a verdade é que só após o 5ªCongresso da Frelimo (1989) é que se passou a falar abertamente da viragem político-económica iniciada de facto em 1983, data do 4ªCongresso da Frelimo (Abrahamsson, Nilsson, 1994:65).
[11] Quando foi negociado o acordo entre as partes, os parceiros portugueses impuseram como condição a entrega da totalidade das responsabilidades e dos poderes para administrar a empresa. A administração da XY considera que a parte moçambicana não tem quadros à altura de assegurar a gestão da empresa.
[12] Indivíduos de raça branca, detentores de passaporte português independentemente do local de nascimento.
[13] Salvo nas oficinas, onde a cooperação é imprescindível à realização do trabalho.
[14] Existem igualmente bairros de caniço, já fora da cidade, por exemplo na estrada para a Matola, em que a população residente exerce alguma actividade agrícola em torno das casas. Estas são, em geral, relativamente bem construídas, dispondo de vegetação em redor e de páteos de terra batida bem limpos e espaçosos. Os bairros de caniço que se encontram nas imediações da XY não se enquadram nestes últimos. São bairros perfeitamente degradados, em que as barracas mal construídas e minúsculas se amontoam num espaço diminuto, densamente povoado.
[15] Obter um emprego formal, mesmo que seja mal pago, e ainda por cima numa empresa estrangeira, é um privilégio a que poucas mulheres, em Moçambique, têm acesso. A relação entre género e classe é aqui evidente.
[16] Todos os dados constantes deste estudo de caso, assim como a realidade nele descrita refere-se a 1995.
[17] Orçamento realizado localmente e tendo em conta os custos da alimentação (com carne e peixe incluída), de uma habitação urbana de cimento, mas localizada em zonas menos nobres da cidade, das propinas escolares e dos transportes colectivos tipo “chapa100” (taxis colectivos – carrinhas ou pequenos camiões de caixa aberta).
[18] O estudo (Gomes, 1996) consistiu num inquérito sobre os valores culturais relacionados com o trabalho de portugueses e moçambicanos. Apresentamos aqui apenas os resultados que exemplificam um caso típico de sistema de trabalho duplo baseado na raça (Sleeter, Grant, 1988: 148) e em que é evidente a relação de domínio subjacente a esta construção social.